Esta semana surgiu na rede e consequentemente na timeline pelas redes sociais a campanha #partocomrespeito, lançada dia 1º de agosto pela Revista Época sobre parto humanizado. Um trabalho realizado por uma jornalista, com uma série de relatos de parto e outros vários chegando, mais de 300. Mulheres com placas com dizeres sobre o que ouviram durante o trabalho de parto e suas intercorrências violentas, os dados dessa violência e os indicativos da OMS sobre como o parto deveria se dar da forma mais natural possível. Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, político e necessário, mas e quanto a nós mulheres negras, nós que não seguramos as placas nas campanhas, não temos nossos gritos anotados e considerados? E o nosso #partocomrespeito?
Acho louvável a atitude de mulheres que se colocam à frente na luta por outras mulheres, pelo direito a um tratamento digno, não apenas no parto, mas em todas as outras situações na vida, para que não sofram violências e tenham seus direitos garantidos, mas existem especificidades que não se colocam à vista de todos quando é mais do que necessário.
Existe uma “ignorância” que cerca o termo parto humanizado, a ideia do parto apenas na água, da família em volta, que ele só pode se dar em casa. Talvez seja o que se vende de fato como parto humanizado. E essa imagem do que dizem que ele deveria ser, coloca muitas de nós mulheres negras tão distantes deste direito “de mina rica” que nos impede inclusive de fazer coro em campanhas como estas, que falham em não nos representar, simplesmente porque falam mais uma vez de mulheres como uma categoria única, todas com os mesmos acessos, a mesma informação, os mesmos recursos, a mesma leitura. Me pergunto então, será que este tipo de direito reivindicado nas campanhas e no cuidado com o parto humanizado é para mim? Seria para nós mulheres negras, somos lembradas nesses momentos? Nós que ainda lutamos pelo direito de ter a dor reconhecida, que ainda lutamos para desconstruir o estereótipo da mulher negra que aguenta mais dor, estereótipo animalizante que leva muitas a óbito até hoje e, que se não mata, deixa marcas e sequelas não comentadas. Será?
Em uma época em que mulheres são culpabilizadas pela própria morte e expostas como troféu de uma aposta na comunidade médica, que a mesma mídia que se utiliza de chamadas sensacionalistas e reúne em seu conteúdo uma espécie de advertência: “olha lá, tentou parto humanizado e morreu, igual a fulana” é a mesma que cria campanhas de #partocomrespeito. Eu acredito que precisamos tomar para nós a propriedade e o conhecimento do que é o parto em si, do porque ele precisa ser humanizado (e humanizar) e falar abertamente ao que estamos expostas para não deixar que falem por nós.
Eu engravidei aos 25 anos, estava casada, queria meu filho. Estava na época morando em Curitiba e tive muita dificuldade de encontrar um obstetra que me acompanhasse, o motivo: eu estava acima do meu peso. Dos 4 médicos pelos quais passei 3 disseram que seria impossível dar à luz a uma criança com o meu peso e altura, e um deles ainda me pediu que informasse quem ele deveria salvar na hora do parto, mãe ou filho. Eu estava na 6º semana de gravidez. Nenhum exame indicando qualquer problema de saúde, a pressão impecável, me sentindo ótima, não fosse pelo fato de que 3 profissionais de saúde me informaram de que eu iria morrer.

A gravidez se deu “normalmente”, não foi a mais tranquila, não pelo bebê, não por estar gravida, mas porque enquanto a gravidez caminhava a vida caminhava junto e não era a mais bonita. Não havia enxoval, não havia livrinho de história escolhido, não havia acompanhamento de ganho de peso para quem ao invés de engordar junto com o bebê perdia peso, não por estar doente, e sim por estar em pânico. Não houve paz, mas haveria um parto.
Consegui um obstetra que me acompanhasse no parto quando eu estava no 6º mês de gestação. Eu estava bem, tudo corria bem, fiz então um “curso de gestantes” na maternidade na qual aconteceria meu parto. Tudo parecia incrível, tabelinha de sorrisos para dizer o nível da minha dor, o bebê amamentado assim que nascesse, tudo que eu poderia querer, fora a sorte (era o que eu acreditava) de não precisar passar pelo SUS. Maternidade católica, com curso para pais, com diploma e tudo. Pelo que dizia meu diploma a partir dali eu não apenas estaria pronta para o parto como para ser mãe. Foram duas semanas de curso de gestantes e pais, e mesmo que tivesse sido um ano completo nada me prepararia para o que viria.
Um mês antes da data prevista para o nascimento do meu filho, eu entrei em trabalho de parto. Estava em casa, sozinha, lavando tapetes e cortinas. Inverno em Curitiba, um dia em que o termômetro marcava -3⁰. Tinha uma consulta naquele dia, não tinha percebido/entendido que estava em trabalho de parto, eu estava sozinha em uma cidade que não era a minha, longe da minha família e na minha mente as dores do parto eram dignas de filmes, e de fato seriam.
Entrei no banho mas não consegui me secar, as dores já eram muitas, ainda assim não achei que fosse o parto, achei que era a tal morte prometida pelos médicos. Coloquei um vestido que estava por perto, no corpo molhado, de chinelos, sem dinheiro, encontrei uma folha de cheque deixada pelo marido na casa para uma emergência, peguei um táxi direto para onde talvez me salvassem, a maternidade.
Cheguei às 13:50h na maternidade, eu não falava de tanta dor, passei por uma salinha de triagem onde identificaram o trabalho de parto e a bolsa foi furada num exame de toque. À uma enfermeira foi delegado o desafio de encontrar meu médico e a outra encontrar meu marido. Eu estava molhada, sem agasalhos, havia deixado a bolsa e todos os documentos na portaria sem dizer uma palavra (afinal eu estava morrendo).
Me colocaram numa cadeira de rodas, tentaram uma anestesia que não funcionou, a criança nasceria antes de ir para o centro cirúrgico, nasceria na mesa de anestesia. Não havia ninguém me acompanhando, o “meu médico chegou” para realizar os procedimentos de parto que consistiam em não falar uma palavra comigo, mas executar sem me comunicar a episiotomia. A episiotomia é um procedimento que consiste em um corte no períneo – um grupo de músculos que sustenta os órgãos pélvicos para facilitar a saída do bebê.

Cheguei num hospital às 13:50h e estava com meu filho no colo as 14:01h, havia realmente a necessidade de “facilitar a saída do bebê” me cortando sem que a anestesia tivesse feito efeito? Eu nunca sequer tinha ouvido falar de episiotomia, me assustei quando percebi que seria cortada, não tive tempo de protestar, tinha as mais horrendas dores. Eu estava com dor, assustada, em desespero porque levaram o bebê pra onde eu não poderia vê-lo. Não soube se ele estava vivo, não havia ninguém acompanhando, eu não sabia o que aconteceria, me pediam para não me mexer. E o bebê então chorou, eu passei a sentir menos dor, mas estava atordoada, me deram o bebê e uma bronca, afinal “que tipo de mãe vai para o hospital sozinha sem a mala de parto”, estávamos nus, eu e o bebê, e o inverno curitibano de -3 graus.
Me deixaram na sala de anestesia com o bebê, enrolados em cobertores enquanto tentavam conseguir um quarto e localizar minha família. Fomos para o quarto e eu achei que tudo mudaria, tudo melhoraria. Meu marido na época chegou com nossa mala e eu não estava mais sozinha. Só que alguma coisa tinha “quebrado” em mim, seja pelo susto, seja pela dor, eu não queria soltar o meu bebê, ainda acreditava que estávamos próximos de morrer, seja de frio, seja por estarmos fracos, por ele ser prematuro, por eu permanecer sentindo dor.
Fomos para casa 48 horas depois, eu com dor, um bebê com 40 cm e o inverno. Imaginei que por ter passado por um parto normal eu deveria estar com menos dores, andando normalmente e feliz porque estava com meu filho, e o nascimento de um bebê é uma vitória, mas eu só tinha dor.
Fui entender efetivamente o quanto eu havia sido cortada (camadas de músculo que necessitavam de pontos) quando estava em casa. Doze pontos, e entendi o que falaram no quarto quando foram verificar se eu estava bem sobre o “ponto do marido”, que o meu estava perfeito e que sorte meu marido tinha, pesquisando depois na internet. Passei a associar a dor que sentia aos pontos da episiotomia, afinal nunca tinha passado por nenhuma cirurgia, não sabia o quanto os pontos doeriam. Também haviam utilizado iodo nos meus cortes, mesmo eu informando ser extremamente alérgica à substância.
Dez dias haviam se passado e eu andava curvada, precisei da ajuda da minha mãe que viajou de São Paulo a Curitiba para me ajudar, passando por cima de necessidades, de proibições, e me ajudou no que pode, eu tinha dor, tinha febre, me incomodava o cheiro de morte que existia no meu quarto, mas que eu imaginava ser impressão minha, afinal só eu sentia.

Minha mãe retornou pra São Paulo, já caminhava para o 20º dia de dores quando então no banho decidi tocar meus pontos e ver o que havia dado de errado, imaginei que eles não tivessem se desfeito, que se eu aliviasse a pressão deles a dor diminuiria. Durante o banho, sem ajuda do espelho e na tentativa de achar os pontos encontrei um pedaço de linha, decidida a acabar com aquela dor mesmo que ela aumentasse muito eu puxei a linha. Retirei de dentro de mim um tampão de gaze. Era simplesmente uma toalha com cerca de 30 cm quando completamente aberta. Imaginei que a dor passaria, eu tinha descoberto o motivo da dor e resolvido, mas estava enganada, mais dois dias se passaram e a dor continuava, retirei mais dois tampões de dentro de mim, desta vez cobertos de sangue morto, eu havia encontrado o que cheirava a morte, me contaminava, me dava febre.
Me restou sentar no chão do banheiro, embaixo do chuveiro, com o bebê no carrinho e chorar, e gritar, porque já não havia mais dor, não cheirava mais a morte, mas poderia ter matado a mim e a meu filho intoxicados por qualquer tipo de bactéria. Ninguém ouviu, nem o choro nem o grito.
Descaso, falta de informação, negligencia médica, 23 dias de pós-parto roubados que viraram uma história que é só minha. Não houve processo, não houve nota de repúdio, pedido de desculpas, ressarcimento. Passei os meses seguintes segurando meu filho até ter tendinite grave nos dois braços, eu tinha a certeza que se eu o soltasse ele morreria, vivi isso em silêncio, uma possível depressão pós parto não cuidada, não diagnosticada, não falada, mas que já é uma outra história. Ainda sinto dores no corte da episiotomia.
Como fazemos para dar um parto e um pós parto digno para todas as mulheres se ainda não se pode ouvir o grito de dor de todas? O que é o parto humanizado se não falamos sobre procedimentos humanos nas escolas, porque eu nunca havia ouvido falar de episiotomia, de tampões de gaze, de pontos em partos normais aos 25 anos, uma escola técnica e uma universidade cursada?
Vomitar esta história nove anos depois dela ter ocorrido é assustador, é como se eu estivesse falando de algo que não se deve falar, o tabu dos assuntos que nem de longe deveriam ser problemáticos. Mas as histórias não devem ficar pela metade. E a minha é só uma das histórias , quantas mais acontecem diariamente?
Precisamos falar mais sobre as nossas dores e experiências para que outras mulheres possam perceber e saber que podem ser violentadas nos momentos mais inimagináveis. Para que se protejam, para que exijam seus direitos e que se tudo mais falhar que elas possam ter ajuda.
Ainda acredito que parir é positivo, hoje, depois de viver este inferno ainda quero mais filhos, nada vai apagar o som do primeiro choro do meu filho, mas nossa história não nasce bonita e cheirando a neném, nasce na luta com cheiro de morte e isso eu não quero nem para mim e nem para nenhuma outra mulher.
Eu tinha um pé atras sobre os formatos de militância pelo parto humanizado, que às vezes mais exclui do que inclui mulheres. Mas não posso fazer do meu desconforto com as suposições dos outros uma ferramenta que me mantenha calada, a mim e a outras.
Sou pelo parto humanizado, pelo parto sem dor, pela presença da doula, pelo atendimento de excelência e gratuito, pelo direito de escolha.
Que a gente possa se debruçar sobre o básico do respeito e construir campanhas e vivências de respeito para todas as mulheres, não apenas as que aceitam segurar as placas exibidas pela mídia. A dor mais pungente não pode ser fotografada nem posta em plaquinhas, então olhem pra nós, olhem por nós.

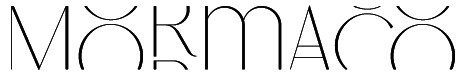


Incrível o seu relato. Concordo totalmente com tudo o que disse sobre o movimento pela humanização do parto que de humanização não tem nada já que o parto é comprado na maioria das vezes, como eu digo, movimento do parto elitizado. Só que quando você critica vão te dizer que existem casas de parto do Sus e maternidades da rede cegonha… Só que as ativistas não entendem que existe o racismo institucional no SUS e que as mulheres brancas que chegam com doula nessas maternidades públicas são tratadas de forma diferente e que as negras continuam sendo desrespeitadas. Eu vivi isso na pele em uma maternidade pública dita humanizada. Vi mulheres brancas sendo tratadas de forma diferente das mulheres negras (principalmente das adolescentes negras) e fui desrespeitada.
Com relação a amamentação também não é diferente. Durante toda a movimentação da semana passada só as questões das mulheres brancas foram tratadas. O tema “amamentar e trabalhar basta apoiar” não nos contempla uma vez que trabalhamos em situações insalubres, em locais distantes da nossa casa, não temos licença maternidade pois não temos carteira assinada. Das 4 mulheres que dividiram a enfermaria a maternidade comigo, duas tiveram que voltar a trabalhar quando seus bebes ainda estavam com apenas UM mês, uma era empregada doméstica (tomava contra de outra criança) e a outra trabalhava como balconista sem carteira assinada… e por aí vai… O movimento não debate políticas públicas de apoio e proteção as mulheres, políticas de bem estar, já vi gente no meio até criticar mulheres que recebem bolsa família…tudo fica no campo da meritocracia, do basta você querer, basta sua família apoiar…muito difícil.
Seu relato é fortissimo! Causou-me um turbilhão de sentimentos. Estou grávida, com previsão de ter a minha criança em Dezembro e fico refletindo sobre estas questões que não estão distantes de acontecer comigo e outras mulheres negras em particular. Contudo, sua história é exemplo de resistência. Agradeço-lhe!
Milito nas questões relacionadas ao parto e direitos reprodutivos das mulheres há uma década e, com mais idade e menos ingenuidade, acredito que o salto qualitativo que este movimento pode dar SOMENTE acontecerá com a inserção do olhar das mulheres negras, da interseccionalidade como princípio ético para pautar qualquer política pública, tal qual aconteceu com o feminismo.
Fato é que este modelo pregado, onde só há salvação dentro da lógica neoliberal, sequer contempla a totalidade das mulheres brancas – o que dizer, então, da realidade das mulheres negras, indígenas, imigrantes? Invisibiliza, silencia e contempla, apenas, às mulheres que foram “capazes” de chegar ao parto natural, sem necessidade de nenhuma intervenção e, preferencialmente, com muitos flashes: logo, é mais excludente do que inclusivo.
Embora eu seja uma mulher branca que experimentou privilé